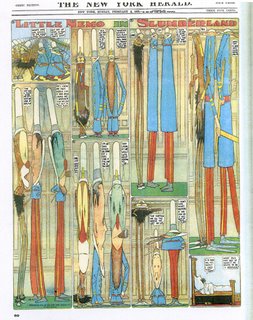Muitas vezes, falar-se-á de uma arte, da escultura ou da música ou da banda desenhada, como sendo uma
linguagem. Mas o que se quererá dizer com isso? Que implicações terá essa afirmação, essa expressão? Será apenas uma metáfora ou cobrir-se-á de um sentido mais profundo, relevante e útil?
Um ponto de partida é dizer que a linguagem é um
sistema de signos. Ora, à disciplina que se dedica ao estudo dos signos dá-se o nome de
semiologia (se se seguir a regra francesa, e as lições e teoria de
Ferdinand de Saussure, à esquerda) ou
semiótica (se se seguir a regra anglófona, e as lições e noções de
Charles Sander Peirce, à direita). Antes de avançarmos, é preciso fazer um pequeno aviso à navegação. Infelizmente, como é a língua (sistema verbal) o sistema semiológico que foi (é) o mais estudado e o mais fácil (?) de estruturar, acabou por se tornar uma espécie de modelo déspota para todas as outras linguagens, inclusive a visual, que não funciona, não poderá de algum modo funcionar da mesma maneira. Para já, pois as representações visuais não são finitas, como acontece na língua, por mais rica, diversificada e viva que ela seja. Não é um sistema fechado. No entanto, termos em conta algumas das noções que nasceram no interior dessa disciplina poder-nos-ão ajudar a compreender outras realidades (como a da banda desenhada), mesmo que seja para nos livrarmos dela assim que pudermos. Mas para quebrar as regras, ou ultrapassá-las, temos de as estudar.
Saussure e Peirce, os dois maiores nomes e fundadores, diferenciados e diferenciantes, deste ramo do saber, concordavam num aspecto: o signo é um elemento
x que representa um elemento
y. Mas o modo como essa representação era feita já é matéria de disputa (e complicada, porque as palavras são iguais mas referindo-se a coisas e ideias diferentes). Peirce, dentro da sua filosofia do Pragmatismo, terá de acrescentar uma peça fundamental nessa noção: “um signo é um elemento
x que representa um elemento
y para alguém”. Além do mais, as sub-divisões dos signos diferem bastante. Vejamos.
1. Para Ferdinand de Saussure é importante a
intencionalidade de comunicação. Existem “
Signos” num sentido lato, e a primeira divisão é se esses signos, se essas representações, o são por uma intenção ou não. Todos nós concordaremos que uma nuvem carregada e negra significa “trovoada” ou pelo menos “chuva”, que uma pegada de um animal no chão significa que “esse animal passou por ali”, que uma mancha negra em torno do olho significa “levou um soco”. O soco e a passagem do animal podem ter sido feitas de modo intencional, mas não a mancha nem a pegada e muito menos o seu “significado”. Quando não existe essa intenção, fala-se, de acordo com Saussure, de
índice. Todos os índices não fazem parte da ciência dos signos, isto é, a semiologia; interessam antes a outras disciplinas do saber (nos exemplos dados, interessarão à meteorologia, à zoologia ou a um caçador, a um médico ou a um polícia). Se existe intenção de comunicação, fala-se de
sinal. Este último ainda se sub-divide, pelo tipo de relação. Se num sinal a forma
x estabelece uma relação natural com o elemento
y, fala-se de
símbolo, ainda que esteja relacionado com uma dada cultura. Por exemplo, existe uma relação natural entre o sinal de trânsito “curva perigosa” e a curva respectiva, entre um desenho de uma ferramenta numa prateleira onde se colocará a ferramenta respectiva: ambos são símbolos. Em princípio, qualquer pessoa de qualquer cultura entenderia a função do desenho da ferramenta, mas a do sinal de trânsito talvez não. Não deixam de ser símbolos. Mas se não existir essa relação natural, e estivermos perante uma convenção, então passamos a falar de
signos, num sentido mais estrito. O sistema de bandeiras da praia, o sinal de trânsito de “Stop” ou de “perda de prioridade”, o código Morse, a língua, uma cruz vermelha numa braçadeira ou outra feita de crepe negro, tudo isto são
signos.

[Mas aqui faz-se uma pergunta: num sinal de trânsito como este, “proibido ultrapassar”, não haverá um cruzamento entre
símbolo (os carros) e
signo (a tarja vermelha significando “proibição”)?]
Aqui uma distinção importante é desencadeada, entre signos linguísticos e não-linguísticos, não só pela natureza dos seus signos específicos como pela sua “dupla articulação” (sendo a
articulação um conceito de um outro autor, mais tardio, chamado André Martinet). Nos signos linguísticos, Saussure via uma relação binária entre um
significante (o material que significa/faz significado, a forma sonora e/ou escrita) e um
significado (a ideia, o conceito, a ideia mental, o conteúdo semântico que significa/é significada – Saussure nunca explicitou muito bem esta parte). Essa relação é impossível de destrinçar, e, nas palavras de Saussure, é “arbitrária e necessária”.
Arbitrária, porque a “cola” que une o significante ao significado não tem qualquer relação natural ou interno, não tem razão nenhuma de ser, por assim dizer: por isso a ideia de pato em português é “pato” (as letras p-a-t-o; os sons – apesar de não utilizar aqui os sinais fonéticos -
p-a-t-o), em inglês “duck” e em coreano “ôri”. Mas o sistema dessas convenções é estrutura social em relação a uma dada comunidade que partilha esse sistema, que impõe esse sistema, e é por isso que é
necessária. A esse sistema, de regras afinal, dá-se o nome de
língua.
Para além disso, a língua possui
dupla articulação. A primeira articulação da linguagem (qualquer linguagem, para já) é a que estrutura o enunciado (o que é “dito”) em
unidades significativas mínimas, quer dizer, a unidade mais pequena que tem forma/significante e sentido/significado (na língua, e fiquemo-nos por aqui, pois poder-se-á complexificar mais, são as palavras). A segunda articulação da linguagem é a que estrutura essas unidades significativas a partir de unidades distintas, i.e., que distinguimos de outras diferentes, mas já sem significado (na língua, são os sons ou as letras). O eixo em que a primeira articulação funciona é o
sintagmático (um eixo horizontal, a frase, no qual as palavras estabelecem relações para construir enunciados com significado; as unidades estão
em presença umas das outras), o da segunda articulação é o
paradigmático (Saussure falava de “associativo”, mas o estruturalismo, uma outra escola da linguística, veio trocar e aprofundar algumas ideias; é o eixo vertical no qual entendemos que se substituirmos
p- por
r- em
pato, já teremos um significado diferente ou em que sabemos poderíamos comutar uma das unidades por outra,
unidade ausente). Diz-se que os códigos com dupla articulação são “económicos”, pois conseguem com um mínimo número de unidades atingir um grande número de combinações significativas. No entanto, desses “códigos” só se concorda com a existência de um: a linguagem (ou línguas) humana.

No entanto, existem códigos semióticos, sistemas, que
apenas têm a primeira articulação, no sentido em que apenas têm unidades mínimas de significado que não são feitas de elementos menores, de unidades distintas, digamos, substituíveis. A infografia dos WCs, das modalidades olímpicas, os símbolos que encontramos na roupa (lavagem, etc.), o canto dos pássaros (que repetem “temas”), os números dos hotéis ou das carruagens dos comboios (quando
11 significa respectivamente “1º quarto do 1º andar” ou “1ª carruagem da 1ª classe”), e os sinais de trânsito são alguns dos exemplos desses códigos semióticos de primeira articulação somente. Alguns autores defendem que códigos como o cinema, a fotografia e até a narrativa (entre outros, e a banda desenhada, como veremos com Groensteen), apesar de terem unidades relativamente combinatórias – linhas, pontos, manchas, etc. –, essas mesmas unidades não são independentes, logo não têm segunda articulação, apenas primeira. Quer dizer, não posso pegar numa dessas unidades abstractas (o círculo que faz a maçaneta da porta desta prancha de François Ayroles, p.ex.) e verificar a mesma entidade (significado), num contexto diferente (como olho de uma personagem?). Há, porém, autores que defendem o contrário, e que apontam a possibilidade de uma sintaxe visual, como o Grupo μ. Para além disso, e esta ideia é retirada de Christian Metz, um outro semiólogo importante do cinema, estes códigos (artísticos) empregam “signos motivados” e não “arbitrários”, logo não têm o segundo eixo.

[Outra pergunta: ao confrontar estes três sinais, “proibido virar à direita”, “curva perigosa” e “obrigatório virar à direita”, não poderia dizer que as tarjas, as cores e as formas são comutáveis? Logo, que estaríamos perante a dupla articulação?]

Há ainda códigos que
apenas têm segunda articulação, ou seja, em que o significado dos seus signos não é estruturado pelas unidades que os compõem, que são meramente funcionais. O mais famoso é o código binário (se forem o Neo, olhem para o ecrã com atenção, que o contemplarão). As bibliotecas usam também um código análogo, o CDU (
Classificação Decimal Universal), que é hierárquico e serial.
Existem ainda
códigos sem articulação, em que a associação entre um elemento x e um elemento y não é recorrente, mas apenas pertinente num contexto muito limitado. As inúmeras correlações entre signos do Zodíaco e pedras preciosas, números, cores, plantas, etc., são um código dessa espécie.
Nota: A obra fundamental de Saussure é Curso de Linguística Geral, de 1916, traduzido em português pela D. Quixote.2.
Para Peirce, a questão não está na
comunicabilidade, na
intenção de comunicar, logo na
construção artificial do signo. Recordem-se do “acrescento”:
para alguém. Não há um relação binária, na
semiose de Peirce, sendo esta antes “uma acção, uma influência que seja ou coenvolva uma cooperação de
três sujeitos, como por exemplo um signo, o seu objecto e o seu interpretante”. Nenhum destes três sujeitos, entenda-se, tem de ser obrigatoriamente humano, mas antes entidades abstractas. A relação entre o
signo (aquilo que está em lugar de outra coisa, que a representa,
x) e o
objecto (a coisa que é representada pelo signo,
y) pode não o ser por uma qualquer relação comunicativa directa e concreta, mas porque
alguém, o
interpretante, medeia essa relação como tal. Por exemplo, acima, na perspectiva sassureana (e terminologia, que coincide nas palavras mas não nas noções com a peirciana), a “nuvem carregada” não era um
signo, mas um
índice, pois não existia
intenção de comunicar. Mas nós, humanos preocupados com a chuva, olhamos a nuvem como representando a chuvada (que aí vem); não há emitente humano, mas há destinatário humano. O
interpretante (humano) estabelece a relação ente um
signo (nuvem carregada) e um
objecto (chuvada). Ou seja, da perspectiva peirciana, há um signo.
A classificação de Peirce dos signos é extensa (primeiro 10, no fim 66) e complexa (e cheia de nomes esquisitos e sub-divisões), mas para o que nos interessa, simplificarei e falarei apenas da divisão mais famosa (e pequenas sub-divisões), que se refere apenas à relação entre os signos e os seus objectos, a saber, os
ícones, os
índices, e os
símbolos (tomem atenção, pois não significam o mesmo que antes, na parte de Saussure, e muito menos os seus significados mais correntes).
Um
ícone é um signo que tem alguma semelhança (ou “parecença”) com o seu objecto. Os signos mais fáceis de entender nesta relação são os desenhos e as pinturas que representam algo que conhecemos na realidade (uma pessoa determinada, uma árvore); ainda uma equação algébrica também é um ícone, pois “mostra” as relações das quantidades indicadas. Mais, não é necessário que o objecto exista na realidade, pois estará integrado naquilo que Peirce chamou de “ground” (um “fundo”, em português), que como que estabelece as regras para a sua existência: por isso aceitamos o Tintin representar o Tintin, apesar de o Tintin não ser mais que uma personagem de banda desenhada, e não existir na realidade (ainda que recorde este ou aquela jovem homem real).
Um ícone pode ainda ser
ilustrativo (Peirce diz “imagem”; é quando há uma partilha de elementos sensoriais: a imagem de uma árvore),
diagramático (quando se partilha uma estrutura: o desenho de uma linha vertical e um círculo no topo para representar uma árvore) ou
metafórico (quando a partilha é de uma qualidade: dizemos que a temperatura “sobe” porque o mercúrio sobe no termómetro).
Um
índice é um signo cuja relação com o objecto é directa, ora por o objecto ser a
causa do signo (como nos exemplos do fumo como signo de “fogo”, o som de alguém a bater à porta significar “alguém à porta”, e, claro, a nossa nuvem carregada) ou a
consequência (as pegadas de um animal, um nariz vermelho poder significar “constipação” ou “bebedeira”, o corar representar “vergonha”). É algo que nos prende a atenção e faz procurar a associação directa.
Um índice pode ser um
traço (algo que tem uma relação física com o objecto mas não é simultâneo ao signo, “já passou”, como as pegadas, ou “virá”, como as nuvens), um
sintoma (que é simultâneo ao objecto, como o fumo), ou ainda
designações (algo que é distinto do objecto, mas
aponta para ele,
designa-o, como os nomes próprios, os deícticos verbais – as palavras “isto”, “aquilo”, “assim”, etc. – o dedo apontando...).
Finalmente, um
símbolo é um signo que representa o objecto graça a uma convenção. Ora esta ideia é precisamente oposta à de Saussure, como vimos (por isso é preciso tomar atenção para saber em que acepção dado termo é utilizado, nem sempre as palavras são usadas da mesma maneira nem para dizer o mesmo). A acção que une o signo ao seu objecto é fruto de uma convenção, arbitrária e acordada entre determinada comunidade, uma regra sistemática (uma
linguagem), e o primeiro apenas denota o segundo por decisão do interpretante. Sem este, não se estabelece qualquer associação, por exemplo, entre a palavra “pato” e o animal que conhecemos com esse nome, a cruz e a figura de Jesus Cristo, a Cristandade, etc. A grande e imediata família a pensar é a língua(s) humana(s). Mas todos os sinais matemáticos, símbolos religiosos, os animais para representar nações, clubes de futebol, etc., também fazem parte dos símbolos. Os símbolos, fazendo parte de uma convenção associada a uma determinada comunidade, podem significar diferentes objectos entre
comunidades de interpretantes diferentes. O exemplo mais famoso é o da suástica, que significará coisas diferentes se formos um budista, um Navajo, um Nazi, ou o
ManWoman.



[Colocamos aqui uma questão. As setas que indicam uma direcção serão um
ícone, uma vez que poderão ter alguma semelhança com a ideia de direcção? Ou serão antes um
símbolo, nesta última acepção? O sinal informativo dos bombeiros é um
ícone, mesmo que não se pareça em nada com um carro de bombeiros que conheçamos? O sinal de “rotunda” é um
símbolo, convencional, mesmo se se parece de facto com uma rotunda (ou a sua direcção geral)?]
Em suma, numa distribuição de importâncias, se isso for possível (lembremo-nos que a relação triádica é fundamental na perspectiva de Peirce), poderemos dizer que no ícone o mais importante é o próprio signo (neles reside uma semelhança física com o significado), no índice é o objecto (com o qual o signo estabelece uma correlação directa), no símbolo o interpretante (que é quem constrói o significado entre signo e objecto). Nenhum deles pode existir sem os três se relacionarem entre si, mas é em cada um desses elementos que há um maior peso, por assim dizer.
A pergunta, depois desta apresentação e resumo (redução drástica) dupla, é: que tipo de
signos existirão na banda desenhada?